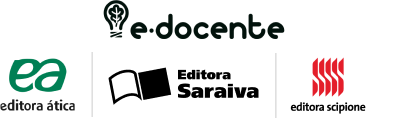Relações raciais a partir dos estudos críticos da branquitude: apontamentos para a prática docente

O Ponto de Partida: Meu Lugar de Fala
Antes de abordar as questões relativas às relações raciais no contexto da prática docente, considero essenciais algumas reflexões iniciais para este debate. Primeiramente, sinto a necessidade e a importância de situar meu lugar de fala. Apesar de ser educador e psicólogo de formação, sou, antes de tudo, um homem cis, socialmente percebido como uma pessoa branca. Portanto, reconheço um lugar de privilégio, especialmente porque, na sociedade brasileira, o conceito de raça, do ponto de vista sociológico, é uma construção social.
A cor, além de outros traços fenotípicos, está diretamente associada a significados simbólicos, em particular quando se trata de pessoas negras, cujo tratamento é, costumeiramente, marcado por preconceitos, e por diferentes formas de acesso e de oportunidades. Em suma, sabemos que ser negro e ser branco no Brasil implica em disparidades de tratamento, por exemplo, no acesso ao mercado profissional, no aspecto estético, no âmbito institucional, na dimensão ambiental e cultural, entre outras ramificações.
A Brutal Realidade do Racismo no Brasil: Exemplos Inegáveis
Constato, assim, o quanto meu tráfego social não é atravessado por eventos como os que vemos diariamente nas manchetes da mídia brasileira. Para ilustrar a persistência do racismo, listo alguns exemplos recentes:
- “O que um preto passa no Brasil”: segurança de loja segue e intimida colunista do Terra Nós (outubro de 2023)
- “Pessoas negras têm 4 vezes mais chances de sofrerem abordagem policial” (junho de 2022)
- Alvo de abordagem de PMs, jovem negro filho de diplomata conta que custou a entender a situação: ‘Eu vi meus amigos com medo’ (julho de 2024)
- ‘Escravo’, ‘urubu’: crianças são vítimas de racismo; denúncias passam de 3 mil em escolas estaduais de SP em 2023 (outubro de 2023)
- “Pai afirma que a filha de 4 anos é vítima de racismo em escola particular no litoral de SP” (setembro de 2014)
- “Deputada estadual afirma que foi vítima de racismo na Alesp: ‘temos que ouvir que nosso cabelo é feio’” (novembro de 2023)
- “Baiana de 20 anos denuncia racismo nas redes sociais após receber mensagem: ‘Você será chicoteada por ser preta’” (novembro de 2020)
Infelizmente, os exemplos acima são uma mínima amostra do que o racismo é capaz de produzir em termos de violência e crime, de maneira contínua, recorrente e, cada vez mais, sutil e sofisticada. Por isso, a meu ver, é crucial que a branquitude se implique em uma perspectiva crítica para assumir uma postura antirracista, a partir de alguns enfrentamentos necessários.
O Estudo da Branquitude: Uma Análise Necessária
Gostaria de citar o título de um artigo de Lia Vainer Schucman, psicóloga social e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que expressa de forma contundente: “Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana”. Nesse trabalho, a autora destaca que, no cenário brasileiro contemporâneo de criação de políticas afirmativas, muito tem sido discutido sobre as identidades raciais no país, como, por exemplo: quem é negro e quem é branco no Brasil?
Leia mais: Educação e antirracismo: Vamos refletir sobre uma educação antirracista!
Lia Vainer Schucman enfatiza que, embora existam muitos estudos, em diversas áreas das Ciências Humanas, que buscam compreender a identidade do negro brasileiro, poucas pesquisas, por sua vez, têm sido realizadas para saber quem é o branco no Brasil e o que significa ser branco nesse contexto (Schucman, 2014).
Essa primeira inquietação da autora já nos aponta a dificuldade (e a quase impossibilidade) de a branquitude brasileira se racializar, seja na produção acadêmica, seja nas relações sociais mais amplas e variadas. Penso que, inicialmente, é relevante conceituar o que temos chamado de branquitude para que esse termo seja mais bem assimilado.
A Branquitude como Categoria de Análise: Origem e Desafios
Essa expressão ganha relevância, enquanto categoria de análise, no campo dos estudos das relações étnico-raciais, nos anos 90 do século passado, na área das Ciências Sociais dos Estados Unidos¹. Identificada, pois, como campo de estudo, passa a ser alvo de interesse por pesquisadores e pesquisadoras da Psicologia, da História, da Comunicação e das Ciências Sociais, conforme afirma Schucman (2014).
Leia mais: Como é a Educação Pública no Brasil? Dados, importância e história
Entretanto, vale ressaltar que tais estudiosos e estudiosas, em sua maioria, são pessoas negras, o que já revela, de forma significativa, a dificuldade de o branco reconhecer-se como um problema, percebendo-se como produtor, histórica e sistematicamente, do racismo. São, pois, os brancos, reconhecendo seus privilégios simbólicos e materiais, articulados ao tom da pele, ou seja, assumindo que retroalimentam o sistema (a branquitude²), que devem se implicar no urgente deslocamento de perspectiva, quanto ao olhar dado ao estudo das relações étnico-raciais no país, no qual o negro é sempre racializado, visto como objeto, e o racismo, por sua vez, tratado como uma herança do período de escravidão e, portanto, uma questão que diz respeito aos próprios negros, conforme têm apontado Cida Bento (2002), Conceição Cardoso (2008), Guerreiro Ramos (1995), entre outros estudiosos.
O “Pacto da Branquitude” e Suas Implicações
Nessa direção, Cida Bento, em sua obra “Pacto da Branquitude”, relata uma experiência pela qual seu filho Daniel passou na escola. Daniel tinha 10 anos e chegara em casa, muito irritado, dizendo que não iria mais à escola, pois não queria mais participar das aulas de História sobre escravidão. Um de seus colegas, um menino branco, responsável por sua irritação, havia apontado, quando voltavam da escola, para meninos negros limpando para-brisas de carros no semáforo, afirmando que tais garotos eram descendentes de escravos e que eram uma vergonha.
Leia mais: Diversidade na educação: um compromisso com o presente e o futuro
Cida Bento diz que, ao ouvir o relato de seu filho, foi dormir atormentada, pois não compreendia como era possível um aluno, após uma aula de História cujo tema era a escravidão — em que se havia falado sobre todos os abusos e violências incessantemente sofridos pelos negros, e visto fotografias de navios negreiros, abarrotados de seres humanos, em condições desumanas e cruéis, com o corpo marcado de ferro — dizer ser uma vergonha ser descendente de africanos escravizados (Bento, 2002, p.9).
Bento afirma que seu filho não poderia acreditar naquilo e, assim, no dia seguinte, criou a seguinte estratégia: eles, ela e Daniel, construiriam uma lista, na qual listariam os feitos dos escravocratas e dos escravizados no Brasil. Do lado dos escravocratas, a lista continha: expropriação de trabalho, violência física e psicológica, estupros, invasões, exploração de recursos naturais, etc. Do lado dos escravizados, havia: sequestro de seu lugar de origem para um país desconhecido para trabalharem, sem salário, para enriquecerem o colonizador à custa de suas próprias vidas. Disse, portanto, a Daniel, que não havia razão para ter vergonha de seus antepassados escravizados, mas muito orgulho por tudo que construíram apesar de todas as adversidades (Bento, 2002, p. 9).
Para encerrar essa história, Cida Bento diz que seu filho ficou mais aliviado, porém ela não. Ela constatou que, no comentário do garoto branco, assim como em todos os exemplos das manchetes trazidas no início deste texto, perpetuava um estigma muito antigo, marcado por diferenças e hierarquias nas narrativas entre negros e brancos. E o mais grave: o menino não conseguia enxergar que quem era o protagonista da escravidão era o grupo racial do qual ele fazia parte: o branco. Isso, sim, era escandaloso e motivo de vergonha.
A Escola como Espelho Social e Espaço de Luta Antirracista
A experiência de Daniel, filho de Cida Bento, infelizmente, não é um caso isolado do que acontece no cotidiano das salas de aula do Brasil, sobretudo no que se refere à prática docente, cuja discussão na área da Educação, do ponto de vista da produção científica, se configura um campo recente. Nessa direção, Coelho (2018), ao realizar um estudo sobre o estado da arte nessa temática das relações étnico-raciais e formação docente, identificou que houve uma maior expressão de pesquisas realizadas no início dos anos 2000 e um apogeu em 2013, fato associado aos dez anos da promulgação da Lei nº 10.639/2003, que altera a LDB (Lei de Diretrizes e Bases), de 1996, estabelecendo a inclusão da temática História e Cultura Afro-brasileira no currículo oficial da Rede de Ensino, de maneira obrigatória.
Leia mais: Escola 3.0: um novo modelo de educação
Portanto, acredito que um caminho para a luta antirracista no ambiente escolar se dê pelas vias da necessária racialização da branquitude, o que significa estar diante de muitos desafios e enfrentamentos para o combate ao racismo nesse ambiente, em face da própria estrutura social brasileira, resistente em assumir-se eugenista, colonialista, brancocentrada, sustentada naquilo que Cida Bento (2002) chamou de pacto narcísico da branquitude, ou seja, aquele pacto que se compromete na manutenção de uma estrutura racial injusta, na qual essa branquitude se privilegia e se autopreserva. Dentro dessa estrutura, a escola, como parte da sociedade, e não um organismo etéreo, pode refletir tais mecanismos de opressão e de violência em seu funcionamento quanto às questões raciais, muitas vezes, de forma insidiosa, naturalizada e/ou mesmo invisibilizada (Valente e Dantas, 2021).
Ao trazer os estudos críticos da branquitude, apontando os privilégios materiais e simbólicos da pessoa branca, procurei, assim, como Schucman (2019), atrelar esse campo de pesquisa à luta antirracista, pois, como reflete a estudiosa, ao focar apenas nas etnias marginalizadas nos estudos de relações raciais — como indígenas e negros no Brasil — o branco é automaticamente colocado em uma posição de normatividade, perpetuando a ideia de que a raça é uma característica exclusiva dos outros (Schucman, 2019). Em sua pesquisa de doutorado, ela constatou, ao perguntar a diversas pessoas brancas sobre o que ser branco representava para elas, que muitas delas nunca tinham pensado sobre o assunto, porque, certamente, não se viam racializadas, isto é, branco não tem raça.
Assim, diferentemente de colocar de novo o branco no centro do debate, procura-se agora possibilitar a ele reconhecer que o racismo não é problema dos negros. Existe uma herança branca que confere privilégios e acesso a determinados lugares, justamente, por estarem situados em uma sociedade estruturada pelo racismo, lugar primevo de vantagem estrutural, do qual goza a branquitude, em todas as suas esferas, das verdades universais, contadas, por exemplo, nos livros de História Geral, os quais Schucman (2019) vai renomear de “História branco-europeia”.
Longe de esgotar as reflexões sobre essa temática, a partir desse recorte, penso que é urgente que a escola, em suas práticas pedagógicas, incorpore o conceito de letramento racial, não apenas numa perspectiva burocrática dos documentos oficiais de ensino, como projetos políticos pedagógicos, planejamentos de ensino, mas, de fato, presentifique-se na práxis, na fabricação do cotidiano escolar, nos fazeres da ação docente e de todos os profissionais envolvidos no funcionamento educativo da instituição escola. Schucman (2022) aponta que, para que aconteça uma desconstrução do racismo por parte das identidades raciais brancas, faz-se necessário que as pessoas brancas se vejam racializadas, de modo que não presenciemos mais casos como: o de Daniel; o da estudante negra pisoteada, xingada de “macaca” e “cabelo de bombril” por alunos em escola municipal de SP; o da filha da atriz Samara Felippo, vítima de racismo em colégio nobre de SP; o da filha de Lorhane Abraão Sampaio, vítima de ataques racistas da própria professora; dos irmãos, vítimas de racismo em escolas diferentes de Niterói no RJ — um foi chamado de “macaco”; a irmã foi alvo de ofensas em relação ao seu cabelo.
Vejam que o ambiente escolar é, segundo pesquisa da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC), contratada pelo Projeto SETA e pelo Instituto de Referência Negra Peregum, realizada em 2023, o mais citado por brasileiros entre os locais onde já sofreram racismo. A revista Veja Educação, em matéria de maio de 2024, também afirma que, em nenhum outro local no Brasil, o preconceito racial se pronuncia de forma tão acentuada como na escola. Em um dos depoimentos trazidos nessa reportagem, a empresária Aline Gabriel narra o doloroso percurso do seu filho Pedro na escola: excluído das brincadeiras, o último da fila. Chegou a dizer à mãe que os amigos brancos não gostavam dele.
Rumo a uma Postura Antirracista: Os Seis Princípios do Letramento Racial
Para tanto, aposto, assim como Twine (2006, apud Schucman, 2022), na racialização da branquitude, como um caminho para uma postura antirracista, que se constitua com base em um letramento racial, o qual está construído em um conjunto de ações, alicerçadas em seis princípios:
- Reconhecimento da branquitude: A pessoa branca reconhece que o fato de possuir essa identidade racial lhe confere privilégios em dimensões sociais das mais amplas e diversas.
- O racismo não é um passado distante: O racismo não é uma conversa de um passado que já passou e que está mal contado nos livros de História; também não pode ser minimizado, como no caso em que dois colegas meus brancos (advogado e médico), numa conversa informal — e que muito me escandalizou —, disseram não terem culpa sobre o que foi feito pelos seus antepassados, quanto à escravidão e suas mazelas, como se fosse apenas um legado histórico, sem implicações na contemporaneidade, sem reedições, cada vez mais sofisticadas no ordinário dos dias. A fala desses colegas, por exemplo, mostra o quanto a ausência de letramento racial contribui para a legitimação e a manutenção do racismo estrutural.
- Identidades raciais são aprendidas: Racializar-se, enquanto pessoa negra ou branca, ocorre nas práticas sociais, como ato político, a serviço de relações mais equânimes e mais justas.
- Assumir uma gramática e um vocabulário racial: Compreender que o racismo também está na linguagem, quando, por exemplo, dizemos que fizeram “magia negra”, que a “inveja é branca”, ou, ainda, quando achamos que “a cor do pecado” e “mulata tipo exportação” são elogios. Por isso, a importância de considerar a dinamicidade da língua para, então, compreendermos que, da mesma forma que novas palavras são criadas em função das demandas sociais, outras desaparecem por não mais atenderem a essas mesmas demandas. Não faz mais sentido, por exemplo, dizer que alguém está numa “lista negra” para dizer que ela não está sendo bem-vista socialmente.
- Capacidade de interpretar os códigos e práticas racializadas: Ser capaz de identificar, nas práticas sociais, manifestações de racismo e não tentar disfarçar, dizer que foi sem querer, que foi um mal-entendido, que não era bem assim, mas, sobretudo, fazer disso um lugar de aprendizado e oportunidade para reconhecer, no caso da branquitude, seu lugar de privilégio e, consequentemente, a não mais naturalização desse tipo de comportamento.
- Análise da interseccionalidade do racismo: Analisar as maneiras como o racismo é mediado por outros marcadores sociais como classe, hierarquias de gênero e heteronormatividade, de modo a pensar na interseccionalidade desse fenômeno, complexificando-o, a fim de dirimir estereótipos e estigmas impostos na sociedade e reproduzidos no ambiente escolar (Twine, 2006, apud Shucman, 2022).
Branquitude e Supremacia Branca: Distinções Fundamentais
Ao longo deste texto, colocamos a branquitude como responsável pela produção do racismo, tendo em vista a premissa do contrato racial de Charles Mills, segundo a qual este beneficia todos os brancos. Todavia, vale destacar uma diferença importante entre supremacia branca e branquitude: enquanto a primeira está associada à detenção do poder econômico, político e jurídico concentrada em uma parcela pequena de brancos; a branquitude, por sua vez, figura como um resquício dessa supremacia, o que faz com que brancos, mesmo sem riquezas materiais e/ou simbólicas, ainda assim, se sintam superiores a pessoas não brancas (Schucman, 2012).
Assim, vale ressaltar, por sua vez, que nem todos os brancos são signatários dessa supremacia, ou seja, nem todos são aqueles gestores escolares, ocupando um lugar de poder, que não se preocupam com a temática das relações étnico-raciais, no currículo e nos fazeres da escola, por exemplo. Portanto, quando sabedores e conscientes desse sistema de exploração, de desigualdade social, de injustiça, de miséria, podem se rebelar, diante dessa realidade, negando-a; para, assim, assumir outro projeto de escola, ou melhor, outro projeto de sociedade, aliada, agora, à luta antirracista.
Referências
BENTO, Cida. O pacto da branquitude. Companhia das letras, 2002. CARDOSO, Lourenço. O movimento negro no Brasil: A luta pela igualdade com o reconhecimento da diferença. Saberes, p. 11-28, 2008. CARDOSO, Lourenço. O branco-objeto: O movimento negro situando a branquitude. Instrumento: Revista de estudo e pesquisa em educação, v. 13, n. 1, 2011. MILLS, Charles W. O contrato racial: edição comemorativa de 25 anos. Rio de Janeiro: Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2023. COELHO, W. N. Formação de professores e relações étnico-raciais (2003-2014): produção em teses, dissertações e artigos. Educar em Revista, 34(69), 97-122, 2018. FARIAS, Erika. Pesquisadora explica conceito de branquitude como privilégio estrutural. Site: https://agencia.fiocruz.br. 2019. Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/pesquisadora-explica-conceito-de-branquitude-como-privilegio-estrutural#:~:text=Pesquisadora%20explica%20conceito%20de%20branquitude%20como%20privil%C3%A9gio%20estrutural,-Publicado%20em%2017&text=Ser%. Acesso: 20 nov. 2024. RAMOS, Alberto Guerreiro. O problema do negro na sociologia brasileira. In: RAMOS, Alberto Guerreiro. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1995. SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: raça, hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana. 2012. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. SCHUCMAN, Lia Vainer. Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana. Psicol. Soc. , Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 83-94, abril de 2014. SCHUCMAN, Lia Vainer. O Branco e a Branquitude: Letramento Racial e Formas de Desconstrução do Racismo. Portuguese Literary and Cultural Studies, p. 171-189, 2022. VALENTE, Gabriela; DANTAS, Adriana Santiago Rosa. Práticas docentes e relações étnico-raciais: reflexos da sociedade brasileira. Cadernos de Pesquisa, v. 51, p. e07327, 2021.
Minicurrículo
Jorge Lira é licenciado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pedagogo pelo Centro Universitário Internacional (Uninter), psicólogo pela Faculdade de Ciências Humanas (ESUDA), mestre e doutor em Educação pela UFPE.