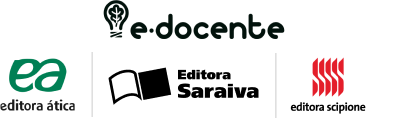Música no Ensino Fundamental: construindo caminhos de aprendizagem

A Importância da música na educação básica e no ensino fundamental
O Ensino Fundamental constitui uma etapa central da Educação Básica brasileira, estendendo-se por nove anos e atendendo crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Por ser o ciclo mais longo da escolarização obrigatória, abrange um público heterogêneo em termos de desenvolvimento cognitivo, social e físico, o que reforça a necessidade de uma formação docente consistente e de uma prática pedagógica responsável.
Ao refletir sobre a construção de percursos de aprendizagem musical nesse nível de ensino, torna-se essencial compreender a Educação Básica como o espaço no qual a música pode alcançar maior impacto social, contribuindo para a ampliação do acesso às artes e para a efetivação de uma formação cultural mais democrática (Penna, 2015).
Nesse cenário, é imprescindível analisar de que forma a Educação Básica, e especialmente o Ensino Fundamental, estruturam-se nos âmbitos legal, curricular e pedagógico, situando a música dentro desse conjunto. Essa análise demanda o reconhecimento dos marcos normativos que orientam a prática escolar — como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Brasil, 1996) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2017), os quais definem princípios, competências e objetivos para essa etapa.
Também envolve refletir sobre a posição que a música assume no cotidiano escolar, considerando aspectos institucionais e formativos para a identificação de desafios e oportunidades para a ação docente. Este artigo, portanto, busca examinar o lugar atual da música na Educação Básica, com ênfase no Ensino Fundamental, além de propor estratégias pedagógicas que favoreçam práticas mais eficazes, contextualizadas e significativas.
Educação musical no ensino fundamental: Análise legal e curricular (LDB e BNCC)
Para avançar na construção de caminhos de aprendizagem musical no Ensino Fundamental, torna-se necessário situar a ação docente nos marcos legais e curriculares que orientam a etapa — assim como nas condições institucionais e materiais que influenciam sua efetivação. O exame da LDB e da BNCC, portanto, não é mero enquadramento teórico, mas fundamento para compreender limites e possibilidades práticas.
Leia mais: A celebração de datas comemorativas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
A LDB estabelece que o Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo, o exercício da cidadania e a possibilidade de progressão no trabalho e em estudos posteriores (Brasil, 1996, cap. II, art. 22, 32). No Artigo 26, a LDB indica que “[…] o ensino de Arte é componente curricular obrigatório da Educação Básica” (Brasil, 1996, cap. II, art. 26).
Mais especificamente, o parágrafo 6º do artigo supracitado expõe que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens constituintes do componente curricular Arte (Brasil, 1996). Vale lembrar que cada linguagem artística constituinte deste componente dispõe de curso de licenciatura específico, não havendo mais a formação polivalente em Educação Artística, predominante no Brasil nas décadas de 1970 a 2000.
Tomando a LDB como referência geral, cabe observar como a BNCC operacionaliza, em termos de competências e habilidades, o lugar da música na Educação Básica — e como, diante dessa formatação normativa, impõe-se a verificação das condições concretas de implementação nas escolas.
A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais na educação brasileira e orienta a construção de currículos em todas as etapas da Educação Básica. Está estruturada em áreas do conhecimento, cada uma delas organizada por competências específicas. Essas áreas subdividem-se em componentes curriculares, que apresentam, por sua vez, competências próprias, desdobradas em habilidades a serem desenvolvidas ao longo da trajetória escolar.
Desafios da aula de música: Infraestrutura, formação e carga horária
Assim como já pude abordar a edição n. 6 de Caderno Pedagógico, em muitas escolas brasileiras, as aulas do componente curricular Arte – particularmente, as aulas de música – enfrentam desafios tais como:
- a ausência de espaços físicos adequados para a prática musical;
- a limitação na disponibilidade de instrumentos musicais;
- os resquícios da formação polivalente em educação artística e sua confusão com a unidocência;
- a carga horária reduzida;
- a atuação de profissionais sem formação específica para a linguagem artística.
Música na BNCC: Linguagem artística vs. unidade temática
No caso da área de Linguagens, são contemplados quatro componentes curriculares, entre os quais se destaca a Arte. Esse componente é organizado em quatro Unidades Temáticas — Música, Dança, Teatro e Artes Visuais —, cada uma delas com seus objetos de conhecimento e habilidades correspondentes. Estes dois últimos podem servir como um ponto de partida para os processos de planejamento de aulas e currículos, desde que se observem alguns erros conceituais, tais como a confusão entre parâmetros do som e elementos constitutivos da música (Brasil, 2017, p. 161, 167).
Vale salientar que, embora a LDB compreenda a música como linguagem constituinte do componente curricular Arte, a nomenclatura adotada pela BNCC categoriza a música – e demais linguagens artísticas – enquanto unidade temática do componente curricular.
Essa reconfiguração terminológica repercute nas práticas escolares: quando a música é tratada mais como unidade temática do que como linguagem, reduzem-se possibilidades de trabalho que valorizem sua dimensão simbólica e comunicativa — razão pela qual França (2020, p. 38) avisa que:
[…] existe uma distância importante entre considerar música como linguagem e como uma área [unidade] temática. Linguagens são sistemas simbólicos pelos quais interagimos, argumentamos, declaramos visões de mundo; portanto, são expressões humanas legítimas das práticas sociais, imantadas pela diversidade cultural.
Nesse sentido, é necessário reconhecer que, embora a BNCC reduza a força da concepção de música como expressão humana, tal limitação não deve ser reproduzida na prática dos professores de música (França, 2020, p. 39).
Estratégias pedagógicas para o professor de música no ensino fundamental
Tendo em vista os marcos normativos, as tensões conceituais e as condições institucionais sinalizadas, proponho princípios e procedimentos que buscam conciliar intencionalidade formativa e viabilidade prática. As indicações seguintes articulam definições conceituais, reavaliação de procedimentos históricos, ampliação de experiências e contextualização ao cotidiano dos estudantes.
Definindo música e educação musical: Conceitos-chave para o docente
Assim como abordado no texto Aulas de música na educação infantil: especificidades e possibilidades de ação pedagógica, publicado aqui no blog E-docente, é fundamental que o professor de música no Ensino Fundamental compreenda a música como uma linguagem artística, socioculturalmente construída, que tem o som como material básico, o que justifica o reconhecimento de suas múltiplas manifestações sem hierarquização (Penna, 2015).
Leia mais: A passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental
Por sua vez, a educação musical diz respeito ao conjunto de processos e práticas de ensinar-aprender músicas nos mais diferentes contextos, compreendendo as relações entre pessoas e músicas enquanto construções culturais, com o intuito de facilitar e promover aprendizagens musicais (Souza, 2021; Del-Ben, 2011; Kraemer, 2000). Com essa clarificação conceitual como referência, impõe-se repensar procedimentos historicamente consolidados no ensino de música.
Superando mitos: Inversão de prioridades e a crítica ao mito do dom
A problematização de práticas herdadas permite identificar quais rotinas e procedimentos devem ser reelaborados para favorecer aprendizagens mais significativas. A atuação docente musical no Ensino Fundamental problematizará, de maneira consistente, as consequências do entendimento da música como linguagem, questionando como procedimentos que já fazem parte do cotidiano do ensino de música podem ser repensados.
De maneira prática, Schroeder (2009) e Penna (2015) nos elencam algumas dessas reflexões:
- a exploração sonora, proposta pelos pedagogos musicais do século XX no início do processo de musicalização, só fará sentido quando atrelada a contextos musicais;
- o instrumento musical deixa de ser pensado como uma finalidade do estudo e assume a função de mediador;
- uma possível inversão nas prioridades do início da aprendizagem musical, privilegiando a experiência sonora como base para a alfabetização musical escrita;
- a contraposição ao mito do dom.
Ampliação do repertório musical: Da diversidade cultural às mídias digitais
A ampliação da experiência musical deve contemplar repertórios, mídias e práticas variadas, superando dicotomias entre erudito e popular. Como consequência do princípio anterior, a atuação docente musical no Ensino Fundamental deve contribuir para a ampliação das experiências musicais dos alunos, superando qualquer oposição entre popular e erudito.
Para tal, o professor que atua no Ensino Fundamental deve considerar todas as manifestações musicais – inclusive, as digitais – como significativas e possíveis de serem abordadas no cotidiano escolar. Assim, é fundamental que o/a docente abrace a multiplicidade, tendo o diálogo como princípio e prática para lidar com a diversidade.
Contextualização da vivência musical: Conectando a aula ao cotidiano do aluno
Para que essa diversidade tenha efeito formativo, é preciso ainda enraizar as vivências musicais no cotidiano dos estudantes. Na atuação no Ensino Fundamental, o/a professor/a de música deve buscar desenvolver ações pedagógicas capazes de promover a interação dos estudantes com diversas sonoridades presentes em seu cotidiano, ampliando o alcance e a qualidade da experiência musical do aluno (Penna, 2015).
Neste sentido, não se pode negar a vivência dos alunos, trazendo um padrão musical exterior e alheio para ser reverenciado. Por isso, tanto a formação quanto prática docente musical reflexiva devem buscar um equilíbrio entre um material consolidado e propostas com abordagens mais contemporâneas.
Conclusão: A construção de caminhos críticos e criativos na educação musical
Conclui-se que o ensino de música no âmbito do Ensino Fundamental só se realiza com sentido quando articulado a uma concepção ampla e plural de música, atenta à diversidade cultural e orientada por princípios de equidade e inclusão (Penna, 2015).
A prática docente, então, deve afirmar a criança como agente de sua aprendizagem, promovendo envolvimento e autonomia musicais (Madalozzo, 2019; 2021) e, ao mesmo tempo, atuar sobre as condições institucionais que viabilizam essa prática: formação continuada, recursos materiais adequados e instrumentos de avaliação formativa.
Assim, a construção de caminhos de aprendizagem na música exige um duplo gesto — reformulação conceitual das práticas escolares e intervenção nas condições que as sustentam —, visando tornar a escola um espaço efetivo de democratização do acesso às linguagens artísticas e de formação cultural crítica e criativa.
Minibio do autor
Matheus Henrique da Fonsêca Barros é professor do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atuando no curso de Licenciatura em Música e como Coordenador do Programa de Pós-graduação em Música (PPGMúsica/UFPE). É Doutor em Música (Educação Musical) pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Mestre em Educação e Licenciado em Música pela UFPE. Foi pesquisador visitante na University of Delaware (UD). Atua na área de Música, com ênfase em Educação Musical, nos seguintes temas: formação e atuação de professores de música; aprendizagem baseada em problemas; metodologias ativas; educação musical, tecnologias e cultura participativa digital.
Referências
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 23 set. 2025
DEL-BEN, Luciana. Música nas escolas. Revista Salto para o Futuro: educação musical escolar. Ano XXI, Boletim 08 – Junho 2011.
FRANÇA, Cecília Cavalieri. BNCC e educação musical: muito barulho por nada? Música na Educação Básica, v. 10, n. 12, 2020.
KRAEMER, Rudolf-Dieter. Dimensões e funções do conhecimento pedagógico-musical. Em Pauta, v. 11, n. 16/17, abr/nov., p. 50-73, 2000.
MADALOZZO, Tiago. “Eu quero [ouvir] de novo!”: o envolvimento criAtivo de crianças de 5 anos na musicalização infantil. Revista da Abem, v. 29, p. 120-136, 2021.
MADALOZZO, Tiago. A prática criativa e a autonomia musical infantis: sentidos musicais e sociais do envolvimento de crianças de cinco anos de idade em atividades de musicalização. 2019. Tese (Doutorado em Música) – Setor de Artes, Comunicação e Design, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019.
PENNA, Maura. Música(s) e seu ensino. 2 ed. Porto Alegre: Sulina, 2015
SCHROEDER, Silvia Cordeiro Nassif. A educação musical na perspectiva da linguagem: revendo concepções e procedimentos. Revista da ABEM, Porto Alegre, V. 21, 44-52, mar. 2009.
SOUZA, Jusamara . A Educação Musical como campo científico. Olhares & Trilhas, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 9–24, 2021. DOI: 10.14393/OT2020v22.n.1.53720. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/article/view/53720.
Crie sua conta e desbloqueie materiais exclusivos
Veja mais

Mediação de leitura na Educação Infantil: Estratégias lúdicas para a formação do leitor literário

Projetos de Vida no 9º Ano do Fundamental: preparando o aluno para a transição ao Ensino Médio
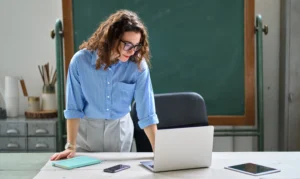
Definindo metas e prioridades para o ano letivo: do diagnóstico ao plano de ação

Competência de Argumentação no Ensino Médio: uma proposta pedagógica baseada no Tratado de Versalhes