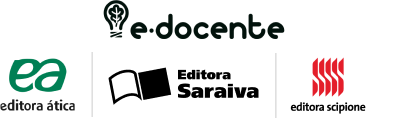Crianças pequenas e o trabalho com projetos didáticos

Em todos os segmentos da Educação Básica, é muito comum, atualmente, ouvirmos a palavra projeto. Professores que atuam com diferentes faixas etárias relatam projetos didáticos desenvolvidos com seus estudantes. Escolas que pretendem mostrar seu grau de inovação anunciam seu trabalho com a metodologia de projetos. Famílias participam de eventos que são chamados de culminância ou encerramento de projetos de suas crianças e adolescentes.
Quando se olha mais atentamente para essas práticas, porém, vê-se toda a sorte de atividades, com ampla diferença entre elas, e todas recebem exatamente a mesma nomenclatura: projetos. Esse é um dos desafios para quem busca entender o conceito de projetos didáticos.
Mas afinal, de que projeto falamos nas escolas?
Essa confusão acontece porque diferentes autores, em diferentes épocas da história, propuseram diferentes metodologias de projetos na escola.
Os graus de influência dessas ideias na contemporaneidade, porém, são variados, e sua disseminação é difusa. Isso faz com que os professores se apropriem de alguns aspectos de cada uma, nem sempre tendo discernimento da origem de cada influência. Também faz com que a concepção pedagógica de projetos didáticos se torne híbrida, com diferentes graus de apropriação e de vertentes (Vidal, 2016).
Uma análise das diferentes perspectivas pode nos revelar algumas dessas influências (Vidal, 2014). Quando um professor associa a ideia de projeto ao fazer propriamente dito, à mão na massa, ele se apoia, mesmo que não saiba disso, na metologia de projetos do estadunidense Kilpatrick (1929).
Leia mais: Ciência na Educação Infantil: Como Despertar a Curiosidade Científica nas Crianças
Já quando ele pensa no trabalho coletivo, na divisão igualitária de tarefas e na gestão compartilhada de um projeto, são as ideias de Makarenko (1986) que o influenciam.
Ao buscar os centros de interesse de seus estudantes, moldando o projeto a partir deles, o professor relaciona sua prática às propostas de Décroly (2006).
Se seu projeto envolver aulas-passeio, correspondências entre turmas ou registro escrito das etapas, é Freinet (1977) quem o influencia.
Se a ideia for relacionada à interdisciplinaridade, apoiando-se nos interesses dos estudantes e diluindo as fronteiras dos componentes curriculares, possivelmente estará influenciado pelos chamados projetos de trabalho defendidos por Hernández (1998).
Se estiver mais associada ao ensino da leitura e da escrita, buscando articular propósitos didáticos (aquilo que o professor pretende ensinar) a propósitos comunicativos (aquilo que mobiliza os estudantes a ler e escrever), podemos dizer que se trata de um projeto didático, tal como proposto por Lerner (2002).
O que são, afinal, projetos didáticos?
A terminologia projeto didático está vinculada aos trabalhos da pesquisadora argentina Delia Lerner (2002). Ao analisar a prática pedagógica de ensino da língua, a autora defende que é necessário romper essa ideia de que parcelas de tempo estariam atreladas a parcelas de conhecimento.
O tempo didático, segundo ela, precisa ser explorado de outra forma: articulando-se a natureza do objeto de ensino à disponibilidade de professores e estudantes para trabalhar com cada tema.
Leia mais: A Importância da Professora de Educação Infantil
Para isso, ela propõe o que chama de modalidades organizativas, ou seja, modos de se organizar o tempo didático em sala de aula. Entre essas modalidades, são descritas as:
- atividades permanentes, aquelas que se repetem regularmente, com periodicidade variável e que, de tão regulares, já são previstas pelos estudantes;
- as sequências didáticas, que constituem um conjunto de atividades estruturadas a partir de um mesmo assunto ou objetivo, organizadas com um grau crescente de complexidade;
- as situações independentes, que são aquelas não vinculadas às demais modalidades, e que acontecem esporadicamente em sala de aula; e
- os projetos didáticos.
Ao descrever os projetos didáticos, a autora explica que a escola vive um paradoxo: por um lado, a leitura e a escrita têm sempre, nas práticas sociais, uma intencionalidade comunicativa: quem lê ou escreve o faz com um objetivo e busca comunicar algo a alguém (ainda que seja a si próprio, em outra ocasião).
Por outro lado, à escola cabe a tarefa de transpor a escrita de objeto de conhecimento para objeto de ensino. Se a escola abrir mão dos propósitos comunicativos que mobilizam os estudantes a ler e escrever, ela corre o risco de promover um ensino da língua escrita mecânico e descontextualizado.
Se, ao contrário, ela abrir mão de seus propósitos didáticos, oferecendo apenas oportunidades de leitura e escrita vinculadas às práticas sociais sem uma intencionalidade pedagógica, corre o risco de não cumprir sua função de ensinar.
Para conciliar esse paradoxo, são propostos os projetos didáticos. Nessa modalidade organizativa, o professor, consciente de seus propósitos didáticos, ou seja, sabendo o que precisa ensinar, propõe aos estudantes uma atividade de leitura e/ou escrita que tenha um propósito comunicativo, ou seja, que esteja articulada a uma prática social, de modo a mobilizá-los para a tarefa.
Como desenvolver um projeto didático na Educação Infantil?
Na Educação Infantil, os projetos didáticos podem assumir diferentes versões. O que vai definir a opção e o desenvolvimento de cada um é a intencionalidade pedagógica do professor.
Em primeiro lugar, é preciso pensar: “o que desejo ensinar?”. Entre esses objetivos, pode estar a leitura e escrita de um gênero de texto específico; o trabalho com organização e produção textual, mesmo com crianças que ainda não saibam escrever; a aproximação ao sistema alfabético de escrita, entre outras possibilidades de projetos didáticos.
Leia mais: A Construção da Autonomia na Educação Infantil
Tendo consciência do que se deseja ensinar, é o momento de pensar em propostas que gerem propósitos comunicativos, ou seja, que entusiasmem as crianças, convidando-as a ler e escrever em uma situação social de leitura e escrita próxima àquelas vivenciadas fora da escola.
Os produtos finais a serem desenvolvidos pelos estudantes (aqueles que gerarão os propósitos comunicativos) podem ser construídos por meio da escrita pelo professor.
É o caso, por exemplo, de projetos didáticos em que a turma, coletivamente, constrói um livro com a reescrita de um conto de fadas para ser doado à biblioteca; ou um mural com curiosidades científicas estudadas pelas crianças, para serem compartilhadas com outras turmas da escola; ou uma coletânea das músicas e parlendas preferidas, para serem distribuídas aos pais; ou um livro com sugestões e regras de brincadeiras para serem realizadas junto com outras crianças na hora do recreio.
Nesses e em outros exemplos, é importante observar que estão definidos o gênero em que o texto será escrito, o conteúdo a ser abordado e o(s) destinatário(a) para quem ele é escrito. Dessa forma, o contexto de produção está dado, e isso contribui para a maior eficácia do projeto didático.
Além disso, ao desenvolver um projeto didático com crianças pequenas, é importante que o professor as conheça bem, tanto no que tange aos aspectos comportamentais, quanto naqueles relacionados à aprendizagem. Só assim ele trará propostas de projetos didáticos que, simultaneamente, gerem um entusiasmo na turma e crie as condições necessárias para a vivência de situações de aprendizagem bem-sucedidas.
Referências
DÉCROLY, O. (1929). La función de globalización y la enseñanza y otros ensayos. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.
FREINET, C. O método natural. Lisboa: Estampa, 1977.
HERNÁNDEZ, F. A organização do currículo por projetos de trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
KILPATRICK, W. (1918) The Project Method: The use of the Purposeful Act in the Educative Process. New York City: Teachers College, Columbia University, 1929.
MAKARENKO, A. (1920) Problemas da Educação Escolar. Trad. Maria Pais. Moscou: Edições Progresso, 1986.
VIDAL, E. Projetos didáticos em salas de alfabetização. Curitiba: Appris, 2014.
VIDAL, E. Projetos didáticos em salas de alfabetização: desafios da transposição didática. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
Minibio do autor
Elaine Cristina R. G. Vidal é uma renomada educadora com vasta experiência em todos os níveis de ensino, da Educação Básica ao Ensino Superior. Atualmente, ela é professora de graduação e pós-graduação na Faculdade de Educação da USP, onde também concluiu seu mestrado e doutorado em Psicologia, Linguagem e Educação.
Sua formação acadêmica é abrangente, com graduação em Letras e Pedagogia, além de especializações em Alfabetização: relações entre o ensino e a aprendizagem e Ética, valores e cidadania na escola.
Com uma carreira multifacetada, Elaine atuou como professora e gestora, e também se destacou como editora no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação da Saber Educação. Sua contribuição para a área de educação se reflete em suas publicações, sendo autora dos livros Projetos didáticos em salas de alfabetização (2014), Literatura e crianças: um encontro necessário (2019) e A infância na escola: reflexões sobre Educação Infantil (2023).
Crie sua conta e desbloqueie materiais exclusivos
Veja mais

A importância da educação ambiental no ensino médio

Recomposição de aprendizagem: estratégias eficazes para programas de reforço escolar

Vamos falar de anticapacitismo na escola? Por uma desconstrução de preconceitos

O papel da educação bilíngue na empregabilidade dos jovens