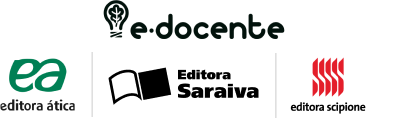O brincar e a natureza: ludicidade e consciência ambiental na educação infantil

Benefícios do brincar na natureza para a consciência ambiental
O simples ato de brincar na natureza – destacando que a natureza abordada aqui pode ser uma praça próxima, o gramado com algumas árvores na escola ou o parquinho com areia que fica no pátio – coloca o corpo e os sentidos de nossos pequenos como instrumentos de investigação.
Tocar a terra, observar insetos, escutar o vento e acompanhar pequenas transformações no pátio permitem que a criança construa conhecimentos concretos sobre processos naturais. Isabel Cristina de Moura Carvalho argumenta que práticas materiais e emocionais do cotidiano são centrais para a formação de subjetividades ecológicas, e o contato direto com o ambiente oferece essas práticas de modo apropriado às idades iniciais.
A escola que organiza espaços de brincadeira ao ar livre cria oportunidades para que valores e atitudes ambientais se expressem em situações cotidianas. Em vez de transmitir apenas conceitos abstratos, a prática educativa pode favorecer hábitos de cuidado por meio de rotinas simples, como regar uma muda ou observar o crescimento de uma planta.
A Lei nº 9.795/99 (Brasil, 1999) demonstra que a educação ambiental deve estar presente de forma permanente na educação formal, o que legitima pedagogias que integrem ação e experiência.
O brincar como laboratório cognitivo e de investigação
No campo cognitivo, o brincar funciona como laboratório de investigação para crianças pequenas. Atividades propostas como jogos de observação, pequenos experimentos sensoriais e registros por desenhos estimulam a capacidade de formular perguntas, testar hipóteses simples e comparar resultados.
Priscylla Karoline de Menezes (2021) destaca que projetos interdisciplinares aproximam Ciências e Geografia às linguagens infantis, tornando a investigação acessível e significativa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Leia mais: Aulas de música na Educação Infantil: especificidades e possibilidades de ação pedagógica
Há também um aspecto de equidade educativa a considerar. Muitas crianças não têm acesso regular a espaços verdes ou a experiências com ciclos naturais fora da escola. Integrar práticas ao ar livre no cotidiano escolar amplia o acesso a vivências que contribuem para o reconhecimento de processos que sustentam a vida. Assim, a escola pode assumir um papel democrático, ofertando a todas as crianças experiências ambientais relevantes.
A dimensão ética e política do tema exige que a escola promova reflexão e autonomia. Carlos Frederico Loureiro (2007) defende uma educação ambiental crítica que conecte questões ecológicas aos contextos sociais e culturais. Na infância, a ludicidade cria um ambiente seguro para que crianças experimentem, perguntem e aprendam a relacionar ações e consequências, sem pressões avaliativas que inviabilizem a experimentação.
Como implementar a ludicidade e a natureza na escola: princípios e organização pedagógica
Os princípios orientadores devem integrar natureza e cultura, promover interdisciplinaridade, valorizar saberes locais e assegurar participação social. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Brasil, 2012) indicam a necessidade de práticas integradas e contextualizadas.
Na escola, isso se concretiza em decisões como reservar tempos regulares ao ar livre, alternar exploração autônoma e propostas mediadas e construir projetos vinculados ao território.
A organização do espaço e do tempo é prática central. Um pequeno canteiro, vasos, uma área sombreada ou mesmo recipientes com terra transformam-se em espaços de investigação se houver rotina e materiais acessíveis. Sessões curtas e frequentes, como de 15 a 30 minutos diários ou blocos semanais, permitem acompanhar processos de crescimento e transformação sem comprometer a rotina escolar. Caixa de exploração com potes, lupas, folhas e sementes garante viabilidade material.
Quanto à metodologia, combinar exploração livre, jogos investigativos e miniprojetos provê equilíbrio entre autonomia e intencionalidade pedagógica. A exploração livre estimula criatividade e iniciativa, enquanto jogos investigativos propõem problemas e permitem formular previsões, ou miniprojetos promovem continuidade e vínculo, como cuidar de um canteiro ou observar a compostagem. Alternar esses modos preserva a dimensão lúdica enquanto introduz procedimentos de exploração do mundo.
O papel do professor: mediador, pesquisador e formador
O papel do professor é o de mediador e pesquisador. O docente observa, registra, formula perguntas que ampliem a curiosidade e reconfigura atividades conforme as respostas das crianças. A formação de professores deve contemplar conteúdos ambientais e estratégias para transformar experiência em aprendizagem reflexiva. Com base em Carlos Frederico Loureiro (2007) novamente, lembre-se que o autor enfatiza a importância do preparo docente para que a educação ambiental seja crítica e contextualizada.
Avaliação formativa: documentando o processo e as trajetórias
A avaliação deve acompanhar processos e trajetórias. Portfólios com fotografias, desenhos, registros orais das crianças e anotações do professor documentam o trabalho. Indicadores simples, como cuidado com plantas, participação em tarefas coletivas, uso progressivo de vocabulário específico e capacidade de descrever observações permitem reconhecer avanços sem reduzir a brincadeira a um teste formal.
Ferramentas e práticas essenciais para atividades de educação ambiental
Atividades curtas e repetíveis facilitam a incorporação da natureza à rotina escolar. Propostas como caça sensorial no pátio, oficina de sementes com histórias locais, dramatização do ciclo da água, construção de abrigos para insetos e rodas de observação com registros desenhados promovem o trabalho com a percepção, a linguagem e a responsabilização. Essas práticas exigem poucos recursos e são adaptáveis a diferentes espaços.
Leia mais: O desenvolvimento da oralidade: muito além do “aprender a falar” na educação infantil
Miniprojetos mensais ou bimestrais aumentam a profundidade das aprendizagens. Adotar um canteiro por turma, montar uma composteira simples, mapear árvores do entorno e organizar trocas de mudas são iniciativas que articulam investigação e intervenção. Esses projetos envolvem planejamento coletivo, divisão de tarefas e responsabilidade partilhada, contribuindo para a aprendizagem de cidadania prática.
A avaliação formativa e documentada sustenta o sentido pedagógico das atividades. Portfólios que reúnam desenhos, fotografias, gravações de relatos infantis e registros de cuidado constituem evidências de progresso. Indicadores práticos incluem frequência e qualidade do cuidado, colaboração em atividades coletivas, ampliação do vocabulário ambiental e capacidade de relacionar ações e consequências.
A importância da articulação com a família e a comunidade
Como catalisador adicional, podemos articular família e comunidade para fortalecer e dar continuidade às práticas realizadas na escola. Convidar avós para compartilhar saberes sobre plantas, promover mutirões de plantio com famílias, organizar visitas a espaços verdes locais e convidar agentes comunitários para feiras de troca de mudas amplia o alcance pedagógico. A participação comunitária também legitima projetos e integra saberes locais ao currículo escolar.
Leia mais: A importância da Educação Infantil: construir um futuro desde cedo
Segurança aos alunos e sensibilidade cultural são requisitos obrigatórios ao abordar a temática ambiental de forma duradoura. Protocolos simples de segurança, atenção à acessibilidade e respeito por diversidades culturais garantem inclusão e dignidade. Planejar alternativas e antecipar riscos permite que todas as crianças participem com segurança, enquanto a prática promove cuidado com o ambiente e com as pessoas.
Minicurrículo do autor
Vinicius Cavichioli Rodrigues é mestrando em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), formado em Jornalismo pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) e em Gestão Ambiental pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP), além de ser Especialista em Desenvolvimento Sustentável. Com mais de doze anos de experiência na área ambiental, tem vivência tanto no setor público quanto no privado. Atuou como docente em cursos profissionalizantes no Senac e na graduação de Engenharia Ambiental na Universidade de Santo Amaro (Unisa), disseminando esse conhecimento e abordando temas alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sempre com foco na temática ambiental. Recentemente trabalhou como Gestor de Unidades de Conservação no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Atualmente, é Analista de Meio Ambiente na JBS, desempenhando suas atividades na Unidade de Suape.
Referências bibliográficas
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 18 jun. 2012.
BRASIL. Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 abr. 1999.
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004.
LOUREIRO, Carlos Frederico B. Educação ambiental crítica: contribuições e desafios. In: MELLO, Soraia S.; TRAJBER, Rachel (org.). Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola. Brasília: MEC/MMA/UNESCO, 2007. p. 65-71.
MENEZES, Priscylla Karoline de. Educação ambiental. Recife: UFPE, 2021.
Crie sua conta e desbloqueie materiais exclusivos
Veja mais

Mediação de leitura na Educação Infantil: Estratégias lúdicas para a formação do leitor literário

Projetos de Vida no 9º Ano do Fundamental: preparando o aluno para a transição ao Ensino Médio
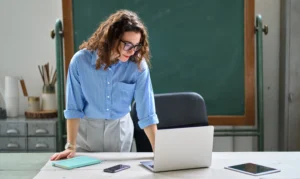
Definindo metas e prioridades para o ano letivo: do diagnóstico ao plano de ação

Competência de Argumentação no Ensino Médio: uma proposta pedagógica baseada no Tratado de Versalhes