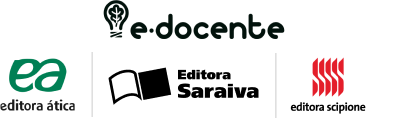O que é, afinal, fluência leitora?

Atualmente, numerosas são as estatísticas que revelam a “fluência leitora” de estudantes em diferentes fases do Ensino Fundamental. Para alimentar esses dados, são elaboradas avaliações (muitas delas em larga escala) que trazem propostas de leitura em voz alta, a fim de mensurar a velocidade, o ritmo e entonação da oralização, definindo o conjunto desses resultados como a fluência leitora das crianças e adolescentes.
Será possível, então, estabelecermos a oralização da leitura como sinônimo de fluência leitora? Confira neste artigo.
Concepções de leitura
Para se definir o que é fluência leitora, é preciso ir além e definir uma questão de base: o que é, afinal, a leitura?
Quando se concebe a linguagem escrita como um código de transcrição da oralidade (Bräkling, 2002; Colello, 2013), é comum imaginar que exista uma relação biunívoca entre grafemas e fonemas – ou seja, para cada letra, existiria um som correspondente, e a cada som corresponderia uma única letra – e que a tarefa de ler equivaleria à oralização dessa relação grafema-fonema. Nesse sentido, quanto mais automatizado estiver esse processo, maiores serão a velocidade, o ritmo e a entonação da leitura em voz alta, o que designaria uma maior fluência leitora.
Leia mais: Como desenvolver a competência leitora no Ensino Fundamental?
Quando, por outro lado, se concebe a escrita como um sistema de representação próprio (Ferreiro, 2015), com características e modo de funcionamento inerentes a essa modalidade da linguagem – e, portanto, independentes da linguagem oral – não é possível conceber a fluência leitora como sinônimo de oralização bem-feita.
À linguagem compreendida em uma perspectiva discursiva (Bakhtin, 2002) corresponde uma noção de leitura como atribuição de sentidos. Nessa concepção, o leitor é um interlocutor ativo, que entra em um “jogo” com o autor, estabelecendo relação entre o texto lido e seu repertório e atribuindo seus próprios sentidos àquilo que lê. Nessa perspectiva, portanto, a fluência leitora é compreendida como o conjunto de relações estabelecidas entre texto, contexto e leitor.
Por que não faz sentido avaliar a fluência leitora somente a partir da oralização?
Definir a fluência leitora de um estudante a partir da leitura em voz alta que ele realiza é adotar uma postura reducionista em relação à leitura.
Historicamente, a escola já realizou abordagens como essa, adotando um ensino prescritivo da língua e reduzindo o ato de ler ao estabelecimento de relações grafema-fonema. Quando se acredita que a escrita é um código, e que seu ensino deve ser pautado na memorização dessas relações, faz sentido avaliar a fluência leitora por meio da oralização.
Leia mais: Leitura pelo professor e formação do leitor literário na escola
A revolução estabelecida no campo da alfabetização por meio da psicogênese da língua escrita (Ferreiro e Teberosky, 1999), associada aos estudos do chamado Círculo de Bakhtin, transformou as reflexões docentes. Documentos como a Base Nacional Comum Curricular (2017) estabelecem um ensino produtivo da língua e, nessa perspectiva, não faz sentido conceber leitura como sinônimo de oralização.
Além de esse reducionismo ser indesejável, não faz sentido avaliar a fluência leitora dessa forma, porque as crianças, inteligentes que são, criam alternativas para se saírem bem na avaliação, ainda que não tenham desenvolvido, de fato, uma fluência leitora adequada.
Relatos de professores narram disparidades entre os resultados dessas avaliações e a real fluência leitora de seus estudantes, já que algumas crianças que não sabem ler conseguem perceber qual é o texto a ser lido e o memorizam (obtendo, portanto, bons resultados na velocidade, no ritmo e na entonação de sua “leitura”), enquanto outros, com boa fluência leitora, ficam nervosos pela situação avaliativa e acabam gaguejando ou lendo mais vagarosamente, o que compromete seu resultado final.
Leia mais: 10 Mulheres Escritoras Negras Latino-Americanas e Caribenhas
É preciso ressaltar também que, por conceberem a leitura como sinônimo de oralização, muitas dessas avaliações propõem a leitura de “pseudopalavras”, uma justaposição de sílabas que não fazem sentido algum, apenas para avaliarem a relação grafema-fonema, impedindo o processo de atribuição de sentidos que é inerente ao leitor.
Essa é uma prática nociva, pois priva o leitor de seu papel de interlocutor ativo, e ainda pode prejudicar os estudantes no momento da avaliação. Relatos de alguns professores revelam que estudantes que sabem ler, mas sentem-se inseguros da própria capacidade, ao se depararem com pseudopalavras no momento da prova dizem: “Está vendo, professor(a)? Eu não sei ler, estou lendo uma palavra que nem existe!”.
Finalmente, é preciso dizer também que testes padronizados, que medem a leitura somente a partir da oralização, desrespeitam os processos individuais de aprendizagem, já que partem do pressuposto de que todos devem ler da mesma forma, o mesmo texto e ao mesmo tempo. Além de desconsiderar as singularidades de cada estudante, essa prática descontextualiza a leitura, o que pode prejudicar o próprio processo de aprendizagem.
Ter fluência leitora é sinônimo de saber ler?
A resposta a essa pergunta depende da concepção de fluência leitora que se tem. Quando se entende a fluência leitora como a capacidade de ler um texto em voz alta, ela não é sinônimo de saber ler.
Analfabetos funcionais, muitas vezes, são aquelas pessoas capazes de estabelecer relações fonema-grafema e que conseguem, portanto, oralizar um texto. Entretanto, essas pessoas são incapazes de compreender o que acabaram de ler, pois ficaram tão centradas na decifração que não conseguiram atribuir sentido algum àquilo que liam.
Se a fluência leitora for entendida de modo mais amplo, como proficiência leitora, que não é sinônimo de leitura em voz alta (Vidal, 2019), ela precisa abarcar os processos de interpretação de texto, atribuição de sentidos ao que se lê e exercício de práticas sociais de leitura. Nessa perspectiva, sim, ter a fluência leitora é sinônimo de saber ler.
Fluência leitora e práticas sociais de leitura
Quando se pensa nas práticas sociais de leitura, torna-se evidente o quanto a proficiência leitora, compreendida de modo mais amplo, é mais necessária aos cidadãos de uma sociedade grafocêntrica como a nossa do que a fluência leitora entendida como oralização.
Uma pessoa que tenha dificuldades com a leitura em voz alta consegue transitar relativamente bem pelas práticas sociais que envolvem a escrita. Poucas são as situações, em nosso cotidiano, que exigem a leitura em voz alta.
Leia mais: O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e a Importância da Leitura
Quando elas aparecem, não é raro que as pessoas digam, sem constrangimento, que ficam nervosas para ler em voz alta, e atribuam essa tarefa a outrem, sem que isso lhes traga prejuízos significativos.
Por outro lado, ainda que a pessoa seja hábil em oralizar os textos, e consiga “lê-los” bem em voz alta, se ela tiver dificuldades em interpretá-los, em estabelecer relações e atribuir sentidos a eles, isso certamente lhe trará prejuízos em sua vida cotidiana.
Considerando essa perspectiva, faz muito mais sentido a escola investir tempo, recursos, energias e avaliações no desenvolvimento da proficiência leitora de seus estudantes do que no desenvolvimento de sua capacidade de oralizar textos escritos.
Para seguir pensando…
Essa é uma questão que precisa ser debatida nas escolas e fora delas. Uma sociedade que pretenda formar leitores não pode reduzir a leitura a somente um de seus aspectos, a oralização.
Avaliar a leitura é preciso, porém, avaliar não é sinônimo de medir. A avaliação deve ser pensada em uma perspectiva formativa (Hoffmann, 2005), sendo entendida não como uma avaliação da aprendizagem, mas uma avaliação para a aprendizagem. Somente nessa perspectiva ela poderá subsidiar os processos de ensino e os de aprendizagem.
Que possamos defender uma prática pedagógica capaz de formar leitores autônomos, cuja inserção nas culturas do escrito seja feita de forma contínua e eficaz.
A fluência leitora não é a capacidade de oralizar um texto, mas um direito à cidadania, que confere, àqueles que a possuem, o direito de ter voz, de ver e ser visto na grande corrente dialógica universal de que fala Bakhtin (2002). Que a escola possa estar, cada vez mais, a serviço de uma concepção de leitura ampla e emancipadora, pois somente assim conseguiremos construir uma sociedade mais justa, solidária e igualitária, como tanto almejamos.
Minibio
Elaine Cristina R. G. Vidal é professora na graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da USP. Ela é formada em Letras pela USP e em Pedagogia pela Universidade Metodista/SP. Possui especializações em Alfabetização: relações entre o ensino e a aprendizagem (ISE Vera Cruz) e Ética, valores e cidadania na escola (Univesp), além de mestrado e doutorado em Psicologia, Linguagem e Educação, também pela FEUSP.
É autora dos livros Projetos didáticos em salas de alfabetização (2014), Literatura e crianças: um encontro necessário (2019) e A infância na escola: reflexões sobre Educação Infantil (2023). Sua vasta experiência inclui atuação como professora e gestora em todos os níveis da Educação Básica, no Ensino Superior e como editora no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação da Saber Educação.
Referências
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2002.
BRÄKLING, K. LÍNGUA PORTUGUESA. MÓDULO 1: O Ensino da Língua Portuguesa: linguagem, interação e participação social. UNIDADE 5: Diferentes
maneiras de se compreender a linguagem e as implicações para a prática pedagógica. REDEENSINAR/UNIARARAS, 2002.
BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: SEB/MEC, 2017.
COLELLO, S. Sentidos da alfabetização nas práticas educativas. In: MORTATTI, M. do R. L.; FRADE, I. C. A. da S. (orgs.) Alfabetização e seus sentidos – O que sabemos, fazemos e queremos? Marília: Oficina Universitária, São Paulo: Editora UNESP, 2013.
FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 2002.
FERREIRO, E. O ingresso na escrita e nas culturas do escrito. São Paulo: Cortez, 2015.
HOFFMANN, J. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2005.
VIDAL, E. Literatura e crianças: um encontro necessário. Santos: Pluralidade Singular, 2019.
Crie sua conta e desbloqueie materiais exclusivos
Veja mais

Quais são os pilares para o desenvolvimento da primeira infância segundo a ONU?
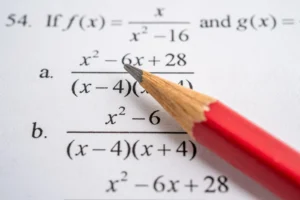
Modelagem Matemática em 3 atos: Matemática com ritmo, drama e solução

O professor de educação física como promotor do desenvolvimento integral na Educação Infantil

A escola que (se) transforma: como e quando começar?